A história do (des)povoamento indígena no Brasil
Quantos indígenas haviam no território que
viria a ser chamado de Brasil, antes da chegada dos portugueses? As estimativas
de quantos indígenas viviam no Brasil pré-colonial varia. O historiador inglês
John Hemming estima que haviam 2.255 milhões de indígenas no Brasil
pré-colonial. Para título de comparação do decaimento populacional desses povos,
nos anos 80 haviam 700 mil indígenas no Brasil. Felizmente, voltando a crescer
nos anos recentes, como demonstra oo último censo demográfico que contabilizou
1,7 milhão em 2022. Compare esses números com a demografia do DF, por exemplo,
com 2,8 milhões habitantes. A cidade de Samambaia possui população de 232.893
pessoas, segundo a PDAD 2018.
Vamos dar uma olhada no passado e levar em
consideração que Portugal era um país com pouco mais de 1 milhão de habitantes. No
início da década de 1530, a população total de Portugal era composta por não
mais de 1,2 a 1,4 milhão de pessoas. Portanto, a população indígena da américa
lusa era significativamente maior.
Olhando brevemente o histórico do
contato entre portugueses e indígenas notamos um histórico complexo de conhecimento
múltuo, alianças e antagonismos que resultou num declínio populacional dos
povos indígenas ao longo do processo colonial. Quando os portugueses chegaram
ao Brasil eles não compreendiam, nem tinham interesse, em diferenciar as
diferentes nações indígenas que aqui haviam, nem idiomas, nem características
culturais. Por meio da expressão negros da terra se designavam
genericamente os índios para diferenciá-los dos negros da Guiné, outro
termo genérico usado para nominar, no caso, os africanos.
No vocabulário dos colonizadores, designar índios
e africanos como negros explicitava o traço de aproximação entre os dois grupos
de negros, segundo a lógica colonialista: o trabalho compulsório e a
escravidão. Ou seja, ambos serviam para o trabalho escravo.
Ao longo da colonização os portugueses
passaram a diferenciar alguns grupos de indígenas. Eles criaram uma classificação
dual: tupi/ tapuia, o que lhes permitiu divisar diferenças, contrastes
entre grupos, esboçando-se uma espécie de proto-etnografia.
Os tupis se encontravam distribuídos por toda
a costa, desde o litoral de Santa Catarina até o Ceará, no Século XVI, havendo
notícia deles no médio Amazonas.
Nota: A historiadora Marivone Matos Chaim
realizou um estudo mostrando que antes da chegada dos europeus ao continente americano, a
porção central do Brasil era ocupada por indígenas do tronco linguístico macro-jê, como os acroás, os xacriabás, os xavantes, os caiapós, os javaés.
(Taguatinga, por exemplo sufixo "-tinga" significa "branco"
e "ta’wa" significa "barro", e "ta’wa’tinga"
significaria "barro branco" em língua tupi).
Os nativos foram identificados como
pertencentes a múltiplas “castas”, “gerações” e sobretudo nações, sendo nação
palavra que, na época, era utilizada para designar o estrangeiro, o que se
diferenciava pela língua, costumes ou religião. Assim, os povos que falavam a
“língua geral”, foram denominados, com diferentes grafias, de tupinambás
(Tupis), tupiniquins, potiguares, caetés, tamoios, temiminós, etc. Em oposição aos
“tapuias” também foram identificados como aymorés, goitacazes, guaianás,
kariris, etc.
Com as nascentes lavouras que se instalaram no
território colonial, vários grupos se engajariam no fornecimento de escravos para
os portugueses em troca de armas, o que fez ativar a limites extremos a
“máquina de guerra” característica da cultura Tupinambá.
A exacerbação da guerra seguia de perto,
assim, a demanda colonial de mão-de-obra, o tráfico e a escravidão indígena. A chegada
dos jesuítas, em 1549, e o deslanchar do processo missionário em
aldeamentos erigiu, até certo ponto, uma barreira à escravização
generalizada, para o que a Companhia contou com o apoio da Coroa.
[O aldeamento indígena é a realização do projeto colonial de
ocupação do território, de reserva de mão de obra e de aculturação dos índios. Na segunda metade do século XVI, a
política de aldeamentos esteve associada à ação dos jesuítas. A ação missionária consistia no
deslocamento, também chamado descimento, de índios de seu território para
aldeias jesuíticas no litoral, sedentarização dos índios por meio do trabalho
agrícola, adoção de “costumes cristãos”, dentre os quais o uso da chamada
língua geral e o abandono do idioma nativo. O aldeamento de índios obedecia,
com efeito, a conveniências várias. Serviam de infraestrutura, fonte de
abastecimento, reserva de mão de obra, contingente para lutar nas guerras
movidas contra os “índios bravos” ou inimigos estrangeiros, atendendo aos
interesses regionais ou da Coroa e também aos dos moradores locais.]
As medidas régias mais importantes nesse
sentido foram as Leis de 1570 e sobretudo a de 1609, restringindo e proibindo o
cativeiro indígena. Não obstante, a ação apresadora e o tráfico de escravos
índios prosseguiu no litoral durante todo o Século XVI, somente diminuindo em
função do decréscimo avassalador da população nativa do litoral. Abriu-se,
então, na passagem do Século XVI para o XVII, o caminho para a difusão da
escravidão africana na economia açucareira.
Para este autêntico desastre demográfico
contribuíram decerto a exacerbação das guerras e do cativeiro. Mas a própria
catequese jogou papel decisivo no “despovoamento tupinambá” do litoral, e não
apenas porque buscava erradicar a identidade cultural dos nativos por meio do
catolicismo, mas sobretudo em função de serem os aldeamentos
erigidos nas cercanias dos engenhos e vilas coloniais. As missões jesuíticas se
tornaram, muitas vezes, um preâmbulo da escravização e um viveiro de epidemias.
Principalmente a varíola, em ondas sucessivas a partir da década de 1560,
dizimou aldeias inteiras, flagelando a população indígena da Bahia, sem excluir
outras capitanias e o planalto paulista. Mas igualmente o sarampo, gripes,
“febres malignas” e outras moléstias para as quais os nativos não tinham
anticorpos naturais, tiveram ação decisiva no declínio demográfico indígena na
costa.
Diversos grupos indígenas resistiram e moveram
ataques aos núcleos de povoamento portugueses, destruíram engenhos, fizeram
abortar diversas capitanias hereditárias, dentre as implantadas no Brasil por
D. João III. Os Aymoré, por exemplo, foram permanente flagelo para os
colonizadores durante o Século XVI, na Bahia, não havendo expedição que os
derrotassem, dentre as várias enviadas aos “sertões” pelos governos coloniais.
Com o acirramento da ocupação colonial, as
mortes e captura, vários grupos indígenas empreenderam migrações em busca da
Terra sem Males, morada dos ancestrais, terra de abundância e imortalidade, que
existiam no imaginário destas culturas nativas. Isto os afastou do litoral no
rumo dos “sertões” (invertendo, assim, o sentido da migração que outrora
caracterizara o povoamento Tupi nas terras brasílicas). Tratou-se, neste caso,
de movimentos migratórios de forte base religiosa, com nítidos ou messiânicos,
e não raro dotados de morfologia híbrida, meio-católica, meio- indígena, uma
vez que várias lideranças nativas desses movimentos haviam já passado pela
catequese ou tinham mesmo nascido nos aldeamentos jesuíticos.
Alianças
indígenas
Os indígenas reagiram de formas variadas às
crises desencadeadas pela colonização. Temos então, um quadro heterogêneo de
como diferentes grupos indígenas lidavam com a ocupação e as ações dos europeus
no território “brasileiro. “Nações” inteiras, por exemplo, optaram por se
aliarem aos inimigos dos portugueses, como os Tamoio, no Rio de Janeiro, fortes
aliados dos franceses nas guerras dos anos de 1550-1560, ou dos Potiguar, boa
parte dos quais resistiram com os franceses durante algum tempo na Paraíba e
atual Rio Grande do Norte. Mais adiante, por ocasião das invasões holandesesas
em Pernambuco, parte dos Potiguar forneceria precioso auxílio aos flamengos,
celebrizando lideranças como Pedro Poti e Antônio Paraupaba, índios que se
converteram ao calvinismo e galgaram postos de comando na administração da
Companhia das Índias Ocidentais, entre 1630 e 1654.
É vastíssima a lista de lideranças indígenas
que conduziram seus grupos a alianças com os colonizadores, escoltando-os nos
“sertões” com flecheiros, combatendo “nações” rebeldes ou hostis aos
portugueses, guerreando contra os rivais
europeus da colonização lusitana. É certo que esta “adesão” aos portugueses
não raro obedecia à lógica nativa e por meio dela se buscava reforçar a luta
contra inimigos indígenas tradicionais, os quais, muitas vezes, por idêntica
razão, se aliavam aos inimigos dos portugueses. Mas, seja como for, sem o apoio
dos guerreiros temiminós liderados por Araribóia seria muito difícil aos
portugueses derrotar os franceses na baía de Guanabara, nos anos de 1560.
O chefe potiguar Zorobabé, depois de lutar ao
lado dos franceses, em fins do Século XVI, passaria para o lado lusitano e seria
recrutado para combater os Aymoré na Bahia e até para reprimir os nascentes
quilombos de escravos africanos.
Mas nenhuma liderança indígena seria tão
notável como o potiguar Felipe Camarão no
contexto das guerras pernambucanas contra os holandeses no Século XVII. Camarão combateu
os flamengos, os tapuias e os próprios “potiguares” que, ao contrário dele, se
bandearam para o lado holandês, recebendo por isso o título de Cavaleiro da
Ordem de Cristo, o privilégio de ser chamado de “Dom” e pensões régias, entre
outros privilégios. Diversas lideranças pró-lusitanas receberiam antes e depois
de Camarão privilégios similares, criando-se no Brasil autênticas linhagens de
chefes indígenas nobilitados pela Coroa por sua lealdade a Portugal.
Foi o apoio indígena que ajudou o hesito da
colonização portuguesa. No entanto, Nos meados do Século XVIII, a Coroa
portuguesa passava por reformas significativas dirigidas pelo ministro Marquês
de Pombal. Reformas que previam, em grande medida, a secularização do Estado e
da administração pública, inclusive nas colônias. Foi neste contexto que os
jesuítas foram expulsos da América Portuguesa e que se instituiu o Diretório, a
nova política indígena que, não obstante as mudanças que iria sofrer no Século
XIX, marcaria profundamente a relação do Estado com as populações indígenas
após a independência.
Despovoamento, incompreensão, cumplicidades, massacres; resistências,
lutas, recriação de identidades culturais: de tudo isto se compõe a história
indígena nos 500 anos de contato. 500 anos de encontros e conflitos, entre a
“indianização” de brancos e “ocidentalização”
de índios, entre os caboclos da umbanda e o assassinato de índios.
______
Texto adaptado do livro Brasil 500 anos de povoamento. Referência do texto: HISTÓRIA INDÍGENA: 500 anos de despovoamento, de Ronaldo Vainfas.
Leia também esse artigo do Nexo Jornal (boa fonte de leitura para atualidades na preparação do PAS), sobre a importância dos povos indígenas e seus territórios para a preservação da biodiversidade brasileira.
https://www.nexojornal.com.br/como-os-povos-e-as-terras-indigenas-protegem-a-biodiversidade



.jpg)







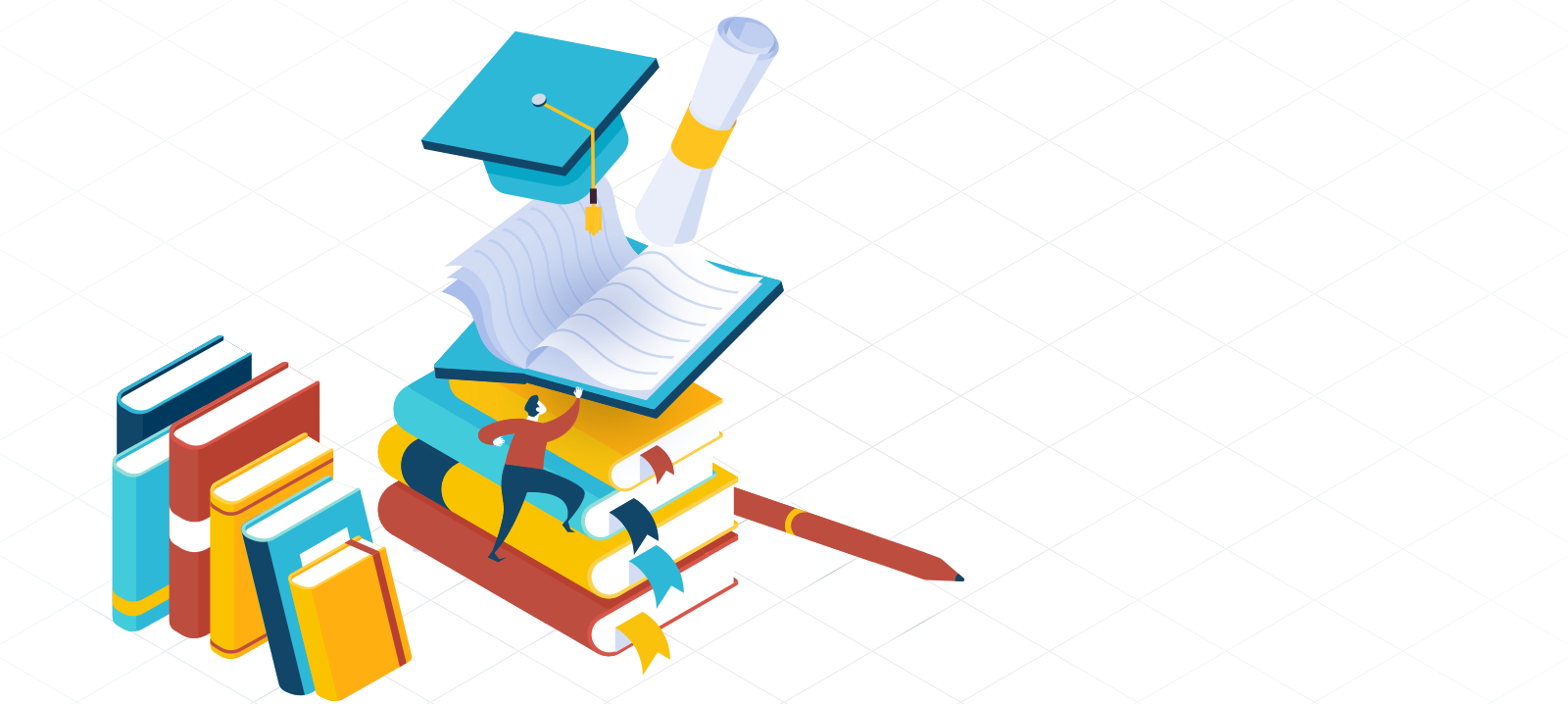






0 Comentários