Introdução
A região
Centro-Oeste tem sofrido modificações significativas nas últimas quatro
décadas. Esse fenômeno intensificou-se com a modernização da agricultura, o que
possibilitou condições competitivas para a produção de commodities. Esse processo, implantado por uma Política de Estado,
modificou as relações de trabalho no campo, substituindo o modelo de produção
voltado para a subsistência por um modelo que contemplava fundamentalmente a
produção de mercadorias destinadas para o mercado exportador; desmantelando a
produção agrícola calcada na agricultura familiar e liberando para as cidades
uma leva significativa de migrantes. Este conjunto de fatores resultou numa
forte desigualdade social que é possível ver presente na região do Centro-Oeste
ainda nos dias de hoje.
Características
importantes do cerrado
Os cerrados
são um tipo de vegetação que se caracteriza por uma variedade de árvores baixas
e retorcidas, típicas do Centro-Oeste brasileiro, mas que podem também ser
encontradas na Amazônia, em parte do Nordeste e Sudeste Brasileiro e até mesmo
no Sul, embora em menor quantidade. Ele é o segundo maior bioma brasileiro
(após a Amazônia) e concentra nada menos que um terço da biodiversidade
nacional e 5% da flora e da fauna mundiais. No que se refere à flora, é considerada
a mais rica dentre as savanas existentes no mundo. Destaque-se que o cerrado
ocupa posição estratégica, tanto do ponto de vista hidrográfico quanto da
geografia econômica.
No que se
refere à sua hidrografia o cerrado desempenha papel importante como alimentador
das principais bacias hidrográficas brasileiras. O cerrado é a cumeeira da
América do Sul, distribuindo águas para as grandes bacias hidrográficas do
continente. Isso ocorre porque na área de abrangência do Cerrado se situam três
grandes aquíferos, responsáveis pela formação e alimentação dos grandes rios do
continente: o aquífero Guarani, Bambuí e Urucuia. Estes aquíferos, que se vêm
formando durante milhões de anos, de pouco tempo para cá não estão sendo
recarregados como deveriam, para sustentar os mananciais. Isso ocorre porque a
recarga dos aquíferos se dá pelas suas bordas nas áreas planas, onde a água
pluvial infiltra e é absorvida cerca de 60% pelo sistema radicular da vegetação
nativa, alimentando num primeiro momento o lençol freático e lentamente vai
abastecendo e se armazenando nos lençóis mais subterrâneos.
Com a ocupação
dos chapadões de forma intensa, que trouxe como conseqüência a retirada da
cobertura vegetal, sua substituição por vegetações temporárias de raiz
subsuperficial, a água da chuva precipita, porém não infiltra o suficiente para
reabastecer os aqüíferos. Conseqüência, com o passar dos tempos, estes vão
diminuindo de nível, provocando, num primeiro momento, a migração das
nascentes, das partes mais altas, para as mais baixas e a diminuição do volume
das águas, até chegar o ponto do desaparecimento total do curso d'água. Convém
ressaltar que este é um processo irreversível.
Em suma, o
cerrado é considerado uma das principais áreas de ecossistemas tropicais da
Terra, sendo um dos centros prioritários para a preservação da biodiversidade
do planeta. Entretanto, vários fatores têm contribuído para alterar essa
situação. Dentre eles, ressaltam-se a pressão urbana e o rápido estabelecimento
de atividades agrícolas na região, o que tem provocado uma rápida redução da
biodiversidade desses ecossistemas.
Ocupação desordenada do
cerrado e desigualdades sociais nos centros urbanos
A posição
estratégica do cerrado vem atraindo investimentos a partir dos anos 1970, pelas
seguintes razões: por estar no centro do país, portanto próximo dos grandes
centros consumidores; pela sua malha rodoviária que facilita o escoamento da
produção; pelo desenvolvimento de cultivares adaptados ao solo e clima; pela
sua geografia com grandes extensões de planícies, o que propicia o
desenvolvimento da pecuária e da agricultura mecanizada, dentre outras. Por
isso, grandes empresas agropecuárias instalaram-se no Centro-Oeste, graças aos incentivos governamentais, transformando
a região numa das principais produtoras de commodities
oriundos das agroindústrias.
Atualmente, a
região é responsável por cerca de um terço da produção brasileira de grãos. Da
mesma forma, grandes extensões de terras foram ocupadas com pastagens para a
produção de carne e leite.
Destaquem-se
dois aspectos relevantes. O primeiro é historicamente conhecido e refere-se ao
desmantelamento das formas de produção rudimentares de cultivo da terra,
voltadas para a subsistência das famílias envolvidas. Esse processo foi
hegemônico até o final dos anos 60 e foi sendo substituído por uma estrutura
econômica e tecnológica moderna a partir dos anos 70. Tal fato viabilizou uma
produção que visava, sobretudo, o mercado exportador. Sob esse aspecto,
estudiosos vêm analisando o agravamento das condições socioeconômicas nos
centros urbanos provocado pelo afluxo intenso de pessoas para as cidades.
Outro aspecto
tem a ver com a forma como se utiliza o solo e os problemas ambientais
derivados de seu uso. Inúmeros estudos, principalmente do Centro de Pesquisas
Agropecuárias dos Cerrados (CPAC) e da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), têm apontado as fragilidades do cerrado no que se
refere à sua forma de ocupação, ou seja, ocupar
esse bioma como área de fronteira é exaurir dele toda a fertilidade que possui,
fertilidade essa que tem como função garantir o futuro do próprio bioma.
Vale observar quanto
à abundância de água nos cerrados e sua função irrigadora do próprio solo e a
maneira como o desenvolvimento da agroindústria na região desregula o ciclo da água. Ao fazer uso intensivo de pivôs de irrigação,
a agroindústria coloca em risco as fontes perenes de água, muitas delas
provenientes de “águas profundas”. E estima-se que o consumo de água em pivôs,
em certas épocas, chega a 3,45 bilhões de litros utilizados em irrigação
diariamente, apenas no estado de Goiás – cerca de 20 vezes o consumo doméstico diário
do milhão de pessoas que vive em uma cidade como Goiânia. É um risco,
uma vez que não se tem conhecimento confiável dos aqüíferos da região, suas
áreas de recarga e descarga, seus ciclos internos e sua capacidade de suporte.
Outro problema
está relacionado ao uso de fertilizantes e agrotóxicos, sobre os quais só
recentemente o Congresso Nacional produziu legislação específica visando o
controle de sua utilização. Ainda assim, um controle mais efetivo esbarra na
morosidade e deficiência do aparato de fiscalização.
No caso do
cerrado, o processo perverso de preparo da terra, visando ampliar a produção de
grãos e de carne, está exaurindo as potencialidades naturais de seu solo e
tornando o acesso à água cada vez mais difícil, na medida em que o lençol
freático vai ficando mais profundo. Como conseqüência, várias nascentes secaram.
É pertinente
relacionar as desigualdades sociais nas cidades às questões ambientais advindas
de um processo produtivo não sustentável do ponto de vista ecológico como tem
sido o caso da ocupação do Centro Oeste.
Metamorfose urbana no
Centro-Oeste e no Planalto Central brasileiro
No Governo JK,
foi criado o Distrito Federal (DF), iniciando-se a construção de Brasília. Em
1977 e 1989, os estados de Mato Grosso e Goiás, respectivamente, foram
subdivididos. Dessa forma, atualmente a Região Centro-Oeste é constituída pelos
estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e pelo Distrito Federal.
O Centro-Oeste
brasileiro ocupa 18,8% do território nacional e possui uma popula- ção de mais
de 11,5 milhões de habitantes, representando 6,9% da população total
brasileira. Desse contingente, 86,7% residem nas cidades. Percebe-se que todos
os estados da região têm sua população vivendo majoritariamente nas cidades.
Esse grau elevado de urbanização vem ocorrendo a partir dos anos 1970. Até
então, a população do Centro-Oeste era
predominantemente rural. Isso significa que a dinâmica econômica das
cidades existentes era determinada pelo setor rural, cuja base econômica era
constituída por uma economia de subsistência, o que, em termos de renda,
empobrecia a economia de toda a região.
A partir de
1970, esse quadro alterou-se, tanto do ponto de vista econômico quanto da
urbanização. O Centro-Oeste passou a ser, em termos relativos, a região que
mais cresceu economicamente em todo o país. Também a que mais se urbanizou. Os
números confirmam que houve uma mudança radical no perfil de sua ocupação a
partir desse ano. A densidade demográfica no Centro-Oeste teve crescimento
assustador em relação ao conjunto das outras
Esse estudo
reconhece, portanto, que a região tinha como característica uma população
rarefeita, o que lhe conferia um adensamento pouco significativo e uma economia
assentada em formas arcaicas de relações sociais (pecuária extensiva,
agricultura de subsistência, regime de posse da terra e de trabalhadores
agregados).
Deste modo a
região Centro-Oeste deixou de ser majoritariamente rural e passou a ser
majoritariamente urbano a partir da década de 1970, exatamente quando o governo
federal fez-se presente através da injeção de grandes somas de recursos na
região. Vale destacar que as ações governamentais, por um lado, estimularam o
desenvolvimento agroindustrial da região; mas por outro, provocou grandes
impactos nos espaços urbano e rural, alterando o perfil socioespacial da região
e o direito de acesso à terra.
Se, por um
lado, as práticas modernas possibilitaram o rápido desenvolvimento de grandes
áreas do Centro-Oeste, por outro, trouxeram problemas de natureza social que
foram desaguar nas médias e grandes cidades. Em outros termos, a combinação de
fatores tecnológicos aliados à experiência em agricultura de exportação e os
investimentos públicos produziram, de fato, um novo modelo que resultou num
processo de esvaziamento do campo e concentrou nas cidades o excedente rural
que fora expulso.
Observe-se a
perversidade desse novo modo de acumulação: a entrada de capital moderno na
agricultura, voltado para a produção de commodities,
substituiu não só os despossuídos assentados na fase anterior (até os anos 60),
mas também a produção tradicional como arroz, feijão, milho e mandioca, necessária
à economia de subsistência, mas também importante para minimizar o custo da
reprodução da força de trabalho nas cidades.
Com os
incentivos e financiamentos governamentais, a produção no campo passou a atuar
sob a lógica capitalista no complexo grãos e carne, com busca crescentes de
produtividade, voltando-se prioritariamente à exportação.
Conformação de uma rede
urbana concentrada
O processo de
desenvolvimento urbano do Centro-Oeste revestiu-se de uma dinâmica
contraditória marcante. De um território pouco adensado e com uma base
econômica extremamente precária, evoluiu para um processo acelerado de
urbanização sustentado por uma economia voltada para o abastecimento do mercado
externo. Os migrantes que para cá se dirigiam estavam ligados às atividades de
natureza tradicional e eram basicamente constituídos de trabalhadores
despojados de meios de produção. Com o advento da modernização da agricultura e
a intensificação industrial das economias urbanas, num quadro de dependência,
alterou-se o perfil do migrante. Entraram em cena os migrantes vindos do sul do
país, detentores de capital, de novos conhecimentos e apoiados por incentivos
governamentais. A combinação de capital, trabalho mais qualificado para lidar
com equipamentos modernos e incentivos fiscais engendraram uma nova economia,
voltada para o mercado externo.
A produção
anterior tinha como objetivo principal abastecer a própria região e, muito
raramente, o mercado externo, já que produzia excedente apenas para os mercados
locais, portanto, insuficientes para atender à demanda externa. Isso permite
concluir que as disparidades regionais não seriam superadas enquanto os
investimentos públicos se dirigissem predominantemente para o grande capital.
O processo de
urbanização, visto sob o aspecto populacional, foi extremamente acelerado em
todo o Centro-Oeste, principalmente nas cidades médias e grandes. Num primeiro
momento, elas tiveram sua população aumentada em função dos vários fluxos
migratórios internos e externos e, num segundo momento, funcionaram como
“imãs”, atraindo para si e para seus respectivos entornos grandes contingentes
populacionais, já como fruto de uma mobilidade mais interna do que externa.
Essa dinâmica
resultou num processo de “urbanização concentrada”, o que implicou a existência
de poucas cidades com população elevada. Vale destacar que as ações
governamentais, de um lado, estimularam o desenvolvimento da região, sobretudo
as atividades agropastoris e agroindustriais a partir dos anos 70; de outro
lado, porém, provocaram grandes impactos nos espaços urbano e rural, desertificando
alguns municípios ao provocar a migração em massa para os centros urbanos.
Se, por um lado, a concentração em cidades
disponibiliza mão-de-obra abundante e barata, por outro, por ser abundante e
mal remunerada, gera problemas urbanos de toda ordem. Assim, Goiânia e Brasília
produziram periferias internas nos seus respectivos territórios e no entorno de
suas respectivas áreas de influência que funcionam como “tapete” para onde se
varre a sujeira que incomoda e desvirtua a beleza das chamadas “áreas nobres” -
as manchas de pobres que emolduram a paisagem urbana e comprometem o visual da
cidade. Os espaços do “entorno”, ou seja, das Regiões Metropolitanas, são
formados pela incapacidade de os núcleos centrais absorverem a pressão das
correntes migratórias. Nesse sentido, acabam funcionando como “biombos” para
reduzir as pressões sobre as áreas centrais. Entretanto, o que se verifica é
que, nas Regiões Metropolitanas, também estão se formando espaços ocupados por
enormes “manchas de pobrezas” cada vez mais inseridas num processo crescente de
segregação social, em que imperam a insegurança, a criminalidade incontrolável,
o alcoolismo, os desajustes familiares e o desemprego crescente.
Considerações finais
São vários os
processos humanos de ocupação dos cerrados com fins econômicos: a exploração do
ouro e de pedras preciosas (século XVIII); a criação extensiva de gado (a
partir do século XIX) e, mais recentemente, a produção de commodities, processos
esses que consolidaram a presença humana nos espaços urbanos. Por que o período pós 1970 é considerado o
mais devastador do ponto de vista ambiental e social? Porque as atividades
produtivas, não só no Centro-Oeste, mas em todo o país, a partir da década de
1970 passam a se orientar por uma dinâmica econômica que procura a maximização
dos investimentos a todo custo. É o período da entronização real do
capitalismo na sociedade brasileira, quando este, já amadurecido, encontra-se
pronto para sua inserção internacional. Para essa inserção, mais do que nunca,
existe a necessidade de se abrirem novas fronteiras e modernizar a produção e
sua forma de organização política, social e ideológica.
As
conseqüências ambientais que resultam da forma predatória de como o capital se
apropria das terras dos cerrado no Centro-Oeste são muitas. Nas décadas de 1970
e 1980, houve o deslocamento da fronteira agrícola para o Centro-Oeste, com
base em desmatamentos, queimadas, uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, cujos
efeitos antrópicos modificam as áreas do Cerrado, tendo como conseqüência o
aparecimento de grandes voçorocas, o assoreamento dos cursos d’água e o
envenenamento de ecossistemas.
Essa decisão
de expandir as atividades agrícolas exigiu o uso indiscriminado de agrotóxicos
que, por sua vez, contaminam o solo e as águas e comprometem mais ainda as
bacias hidrográficas já ameaçadas em decorrência de sua exploração exaustiva
para uso da agricultura irrigada. Atualmente,
cerca de 70% do Cerrado é utilizado para a agropecuária, principalmente para o
cultivo da soja.
Lamentavelmente,
os cerrados continuam sendo um bioma ainda esquecido pelos brasileiros, até
mesmo pelas pessoas que habitam o Centro-Oeste e que vêem com bons olhos o
processo de desenvolvimento pelo qual está passando. Ou seja, o próprio homem
do Centro-Oeste não leva em consideração a biodiversidade presente nesse bioma
e as ameaças que pairam sobre ele com a perspectiva do “progresso”. No dizer de
Corrêa (2000), “durante a construção de Brasília, não houve preocupação com a
preservação do cerrado: afinal, ali estava a ‘vegetação lixo do Brasil’, que
precisava ser eliminada para ceder espaço à urbaniza- ção”. Palavras duras, mas
que expressam a concepção que os empreendedores tinham dos cerrados e que,
abruptamente, a partir dos anos 70, foi se alterando, tendo como base os
estudos da Embrapa que sinalizavam para o seu aproveitamento produtivo. O fato
é que, em pouco menos de quarenta anos, a paisagem dos cerrados no Centro-Oeste
mudou radicalmente em função dos interesses estruturais do desenvolvimento
econômico brasileiro.
Os efeitos
ambientais desse processo de ocupação perversa, em decorrência das atividades
humanas, permanecem castigando o território centroestino até os dias de hoje,
contraditoriamente, como constata Correa, quando observa que há “desequilíbrio,
francamente favorável a alguns setores da sociedade e desfavorável para o meio
ambiente”.
Autores: Aristides Moysés e
Eduardo Rodrigues da Silva.



.jpg)







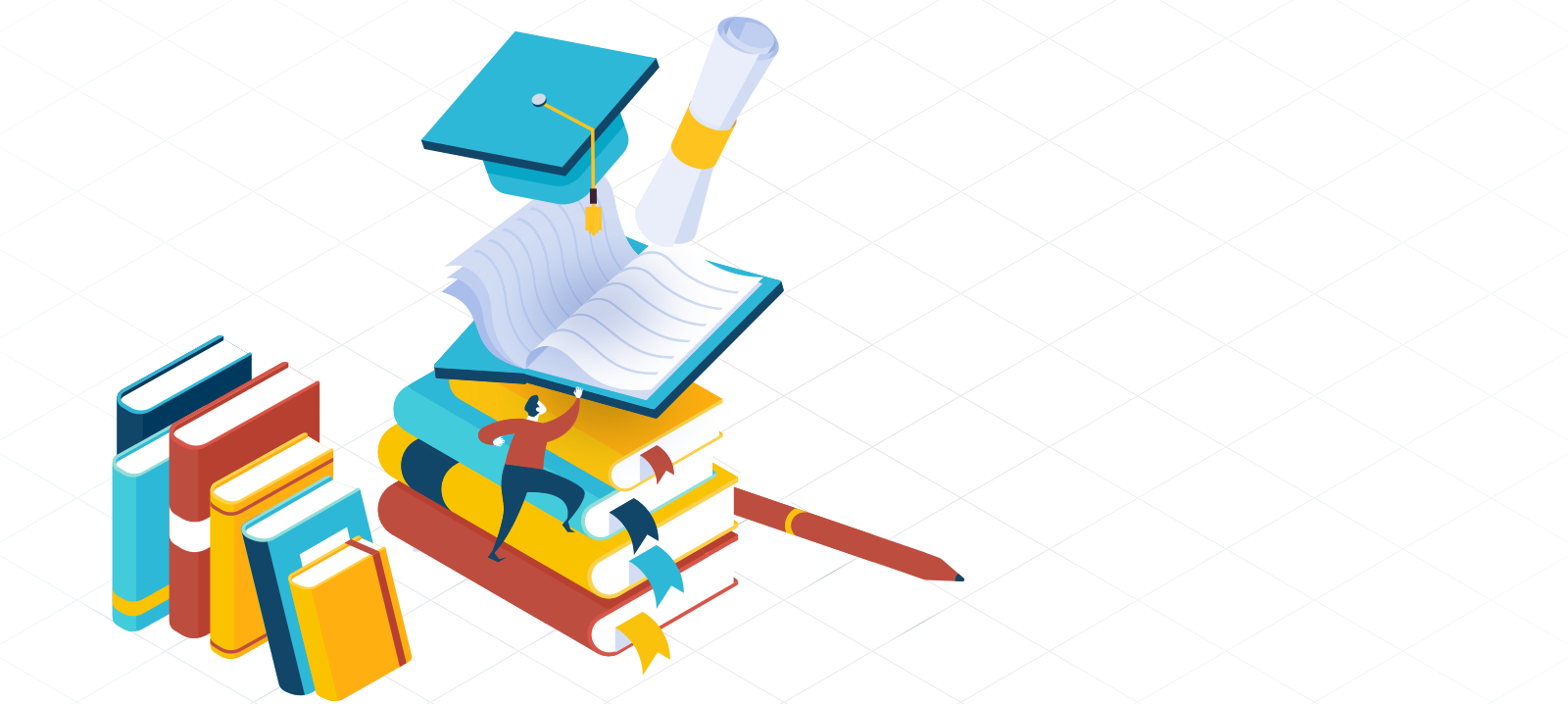






0 Comentários